Cristiane Brandão: Freud explica a sentença de Moro contra Lula no caso do triplex
Tempo de leitura: 7 min

GUERRA JURÍDICA (OU, SIMPLESMENTE, GUERRA)
por Cristiane Brandão*, em Comentários a uma Sentença Anunciada
As preocupações penais e processuais penais certamente bem exploradas nessa publicação denotam o olhar técnico de tantos especialistas qualificados, colegas de academia e juristas renomados, que dispensam minha contribuição com a dogmática, seja na seara da teoria do domínio do fato, da dosimetria da pena, da competência ou do sistema de provas.
O ponto que gostaria de destacar na sentença e incitar à reflexão consiste no recorrente uso de argumentos para rebater a alegação da defesa quanto à evidente “guerra jurídica”.
Ganha relevo a dedicação de inúmeras páginas da decisão de Sérgio Moro para negar tal estado bélico, sem ao menos problematizar seu significado ou expor o conceito adotado pelo Juízo quanto a este termo.
Parte-se da premissa Freudiana de que a negação tem muito a nos dizer… (Freud, 2014).
A proposta que apresento é, portanto, mapear os fundamentos aduzidos pelo julgador, interpretar a retórica utilizada e medir as possíveis implicações do discurso pretensamente neutro na conformação de um projeto político-social.
“Nada equivale a uma guerra jurídica” (ou o sentido da negação).
O termo “guerra jurídica” aparece dez vezes ao longo da sentença (itens 39, 66, 77, 83,118, 127, 128, 130, 132 e 138).
Apoie o VIOMUNDO
Inicialmente, ainda no relatório: “a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, em alegações finais (evento 937), argumenta: a) que o ex-Presidente sofre perseguição política e é vítima de uma ‘guerra jurídica’ ou de ‘lawfare’, ‘com apoio de setores da mídia tradicional’” (p. 7).
Na tentativa de desconstruir o lawfare, Sérgio Moro nos remete a momentos processuais em que defende ter agido técnica e legalmente, ressaltando que “atos praticados por este Juízo ocorreram no exercício regular da jurisdição” (p. 15).
Citando episódios fáticos determinados por ele – como condução coercitiva, buscas e apreensões, quebras de sigilo, divulgação de áudios –, sem mesmo mencionar as alegações da acusação, o discurso transparece a adoção inconsciente da polarização Lula-Moro tão bem esculpida pela mídia e tão bem assimilada pela doxa.
Ao mesmo tempo em que assume esse tom defensivo e intranscendente, o juízo invoca para si o prazer da “titularidade das ações” como expressão de seu poder (judicante).
De forma subjacente, o gozo reprimido.
De forma expressa, a negação à guerra jurídica: Freud mostra a importância do sentido da negação na origem psicológica da função intelectual do juízo já que, ao negar algo, de fato, o sujeito está afirmando que se trata de uma relação de sentido que preferiria reprimir.
Essa função foi estabelecida a partir da experiência da percepção/satisfação, e, para Freud, isso não se dá como um processo passivo.
Assim, os julgamentos são construídos no processo de constituição subjetiva, originariamente orientado pelo princípio do prazer, que regula a inclusão ou não de algo no ego, e também pelas experiências de recalque. (Ripoll, 2014, p. 312).
Com efeito, negação e prazer estão imbricadas.
No entanto, a função do juízo permanece potente e torna-se possível “pelo fato de que a criação do símbolo da negação permite ao pensamento um primeiro grau de independência das consequências da repressão e com isso também da coação do princípio do prazer” (Freud, 2014, p. 29).
Quase num tom de menosprezo impaciente, Moro recorre a impressões pessoais para minimizar a gravidade da condução coercitiva.
Utilizando o pressuposto da normalidade da medida por ter durado apenas “algumas horas”, por se garantir a presença do advogado, o resguardo à integridade física e o direito ao silêncio, descarta a hipótese de guerra jurídica (mas, quando as garantias da presença de advogado, da integridade física e do direito ao silêncio deixam de ser aplicáveis a prisões cautelares ou desfiguram o lawfare?).
A retórica em torno de um linguajar protojurídico, psicanaliticamente, pode pretender somente ocultar o processo subjetivo que se apropria do cientificismo para maquiar a robustez de um argumento de autoridade:
Ao associar diretamente o símbolo da negação ao jogo das moções pulsionais primárias, Freud desconstrói toda uma racionalidade cartesiana do pensamento e também a afirmação de uma verdade inquestionável caucionada pelos parâmetros da lógica clássica.
Abre, assim, um rombo no supostamente neutro edifício da ciência e nos raciocínios “bem-formados”. (Ripoll, 2014, p. 312).
Assim, sem deixar de reconhecer que a condução coercitiva é totalmente questionável, sem deixar de compreender os reclames de quem sofre a busca e a apreensão, sem deixar de concordar com a possibilidade de se indagar da competência do juízo, sem deixar admitir como criticável ou inapropriada a forma ou a linguagem utilizada pela Procuradoria da República na entrevista coletiva em que se ataca a imagem de Lula, Moro segue com a mirada cega da negação freudiana para tentar mostrar um raciocínio científico “bem-formado”, ileso, imparcial.
Nega-se, inclusive, o mais evidente apoio da mídia hegemônica tradicional ou sua influência sobre as notícias que serão publicadas.
Como afirma a sentença no item 138, no fundo, portanto, é mais uma tentativa de diversionismo em relação ao mérito da acusação e de apresentar o ex-Presidente como vítima de uma “guerra jurídica” inexistente.
Mas, afinal, onde está a guerra? (ou a exceção e a regra).
Não dedicarei linhas, aqui, para explorar os conceitos de lawfare (Werner, 2010) ou SLAPP (Pring e Canan, 1996), pois prefiro problematizar a noção de guerra para depois encaminhar algumas conclusões.
No famoso tratado Da Guerra, Carl von Clausewitz demonstra uma visão clássica baseada na ilustração da guerra como imposição de violência para obrigar alguém a fazer sua vontade.
A guerra, então, não é somente “um ato político, mas um verdadeiro instrumento da política, seu prosseguimento por outros meios” (apud Foucault, 1999, p.22, n.r.9).
Tem também como fim uma certa paz ligada à vitória de um dos beligerantes, após o derramamento de sangue causado pelo conflito de interesses entre as partes (Passos, 2005).
No entanto, na sagaz percepção de Hannah Arendt, em Sobre a Violência (2001), já percebemos o anúncio de uma virada epistemológica.
A autora chama a atenção para o fato de que à segunda guerra mundial não se seguiu a paz, ao revés se estabeleceu a guerra fria e toda uma estruturação de trabalho industrial-militar.
A lógica da potencialidade da realização da guerra infiltrada na tecitura da sociedade apoia e estrutura as Instituições:
Falar da “prioridade do potencial para fazer a guerra como principal força estruturadora na sociedade”, sustentar que os “sistemas econômicos, as filosofias políticas e a corpora juris servem e ampliam o sistema de guerra, e não o contrário”, concluir que “a própria guerra é o sistema social básico, dentro do qual outros modos secundários de organização social conflitam ou conspiram” – tudo isso soa muito mais plausível do que as fórmulas do século XIX de Engels ou de Clausewitz. (Arendt, 2001, p. 17)
Com efeito, as engrenagens e instituições sociais ganham conformação a um certo modus operandi de luta constante, em que o poder se mostra como sistema de dominação.
As relações e os aparelhos de poder passam a se constituir por essa lógica de guerra-dominação-sujeição, em que o sujeito deve se encaixar em certo padrão de normalidade (padrão, este, construído pelas verdades do saber-poder).
Inevitável citarmos Foucault nesse ponto e citar uma das muitas perguntas que movem suas (nossas) inquietações: “sob a paz, a ordem, a riqueza, a autoridade, sob a ordem calma das subordinações, sob o Estado, sob os aparelhos do Estado, sob as leis etc., devemos entender e redescobrir uma espécie de guerra primitiva e permanente?” (1999, p. 53).
Invertendo, assim, proposição de Clausewitz, Foucault vai dizer que “a política é a guerra continuada por outros meios” (1999, pp. 22 e 55).
Consequentemente, a guerra é intrínseca às relações de poder e constantemente utilizada para destruir o inimigo político, seja por meio da cientificidade do biopoder (que justificou o racismo, por exemplo), seja pelas modalidades (igualmente técnicas) de assujeitamento dos tidos
como loucos, anormais, diferentes, delinquentes.
Concordando, ainda portanto, com o filósofo, a linha metódica de análise do poder deve incluir o sistema punitivo.
Assim, a partir de um ponto de vista tríplice, necessário se faz investigar as técnicas, heterogeneidade das técnicas e seus efeitos de sujeição.
Os instrumentos do Direito Penal, do Processo Penal, da Criminologia e da Política Criminal, integrados aos aparatos de controle punitivo, deslocam seu olhar, suas armas e seus canhões para as “desordens” causadas pelos “diferentes”:
Não se trata tanto de fazer conquistas territoriais e, muitas vezes, nem mesmo de conquistas econômicas; mas se trata, mormente, de moldar as mentes, os espíritos, as almas, as subjetividades dos outros, dos inimigos.
Se colocarmos as práticas religiosas, artísticas e sociais em geral sob o guarda-chuva da palavra cultura, estamos diante de guerras culturais.
E se colocarmos sob a qualificação de racistas todas as práticas de xenofobia, machismo, etnocentrismo, intolerância à diferença etc., nos identificamos com Foucault, quando ele diz que a expressiva maioria das guerras do século XX ― e eu me permito estendê-las para o século XXI ― são guerras racistas. (Veiga-Neto, 2014, p. 3).
E se colocarmos sob a qualificação de jurídicas todas as práticas de atos próprios do exercício jurisdicional, apoiados (ou não) no texto legal, com suporte (ou não) na Constituição Federal, mas que, de qualquer modo, demonstrem a intolerância à diferença e às “desordens” provocadas por esses “diferentes”, estaríamos diante de que guerra?
Interpretando-se como atos desempenhados no exercício regular da jurisdição, logo vistos como atos normais, assume-se que a normalidade é a exceção transformada em regra, como sintoma do trato do réu como inimigo (Jakobs, 2007).
A Condução coercitiva, as buscas e apreensões, as quebras de sigilo, a divulgação de áudios representam, nesse contexto, a normal excepcionalidade.
Apoiando-nos em Benjamin, “a tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral” (1940, p. 3).
Caso tivéssemos muito mais páginas para dissertar, seguiríamos, aqui, a proposta de Agamben para uma reflexão profunda sobre as sugestões de Foucault e Benjamin quanto a imbricação vida nua e política nas ideologias da modernidade.
Limitamo-nos, entretanto, a referenciar o autor de Homo Sacer, nas suas investigações sobre a interseção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico de poder, bem como, especificamente, sobre as observações schimittianas a respeito do soberano.
A sentença de Moro reflete sua condição de soberano. O estado de exceção confirmado na suspensão da validade das normas cria o paradoxo aparente da própria possibilidade da validade da norma jurídica e ratifica, com isso, o próprio sentido de autoridade estatal.
Num continuum de decisões de excepcionalidade, a jurisdição diz o direito-não-direito, fomentando a estrutura jurídico-política de inclusão daquilo que é expulso, ou seja, construção de atos excepcionais ao exercício da jurisdição como atos regulares:
A exceção é uma espécie da exclusão. Ela é um caso singular, que é excluído da norma geral.
Mas, o que caracteriza propriamente a exceção é que aquilo que é excluído não está, por causa disso, absolutamente fora de relação com a norma; ao contrário, esta se mantém em relação com aquela na forma da suspensão.
A norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta.
O estado de exceção não é, portanto, o caos que precede a ordem, mas a situação que resulta de sua suspensão (Agamben, 2007, p. 25).
De todo o exposto, é possível concluir que o estado de exceção, gerado a partir de decisões judiciais irregulares, retroalimenta medidas excludentes que, incorporadas à regra da excepcionalidade, ocultam a sujeição dos inimigos a uma padronização de subjetividade.
A sentença de Moro é emblemática da rotina de guerra travada intramuros do Judiciário como expressão de gozos introjetados a partir de estímulos extramuros, na lógica de uma sociedade intolerante e classista.
Com Brecht, em A Exceção e a Regra, finalizamos a viagem de dois explorados e de um explorador:
Assim termina
A história de uma viagem,
Que vocês viram e ouviram:
E viram o que é comum,
O que está sempre ocorrendo
Mas a vocês nós pedimos
No que não é de estranhar,
Descubram o que há de estranho!
No que parece normal.
Vejam o que há de anormal!
No que parece explicado,
Vejam quanto não se explica!
E o que parece comum
Vejam como é de espantar!
Na regra vejam o abuso!
E, onde o abuso apontar,
Procurem remediar!
* Profa. Adjunta de Direito Penal e Criminologia FND/UFRJ
Leia também:



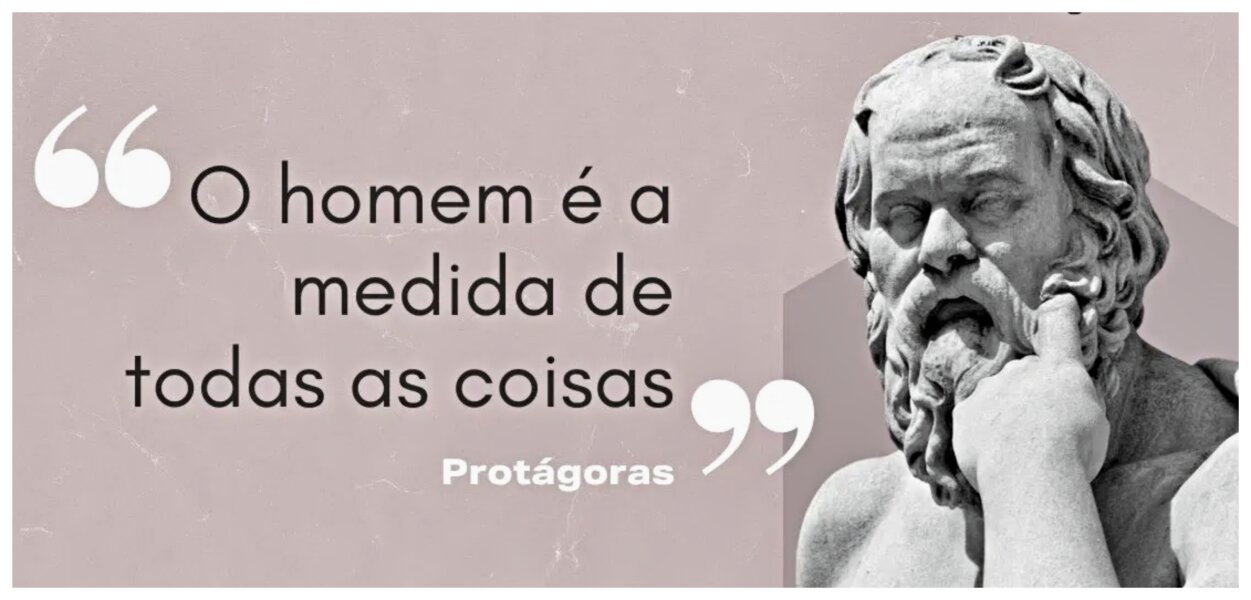

Comentários
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!