Salem Nasser: Cegueira seletiva, comoção seletiva, narrativas naturalizadas
Tempo de leitura: 12 min
Cegueira Seletiva, Comoção Seletiva, Narrativas Naturalizadas
Por Salem Nasser*, em Cegueira Seletiva
O que é preciso para que alguém veja, enxergue, um genocídio em curso?
À clássica pergunta, sobre se faz barulho a árvore que cai sem que haja ali alguém por testemunha, eu sempre respondi com a afirmativa, não sem um traço de irritação.
Incomodava-me a presunção de que o som só se produzisse para ouvidos humanos; era, para mim, uma manifestação do nosso antropocentrismo soberbo.
Se alguém estiver por perto enquanto cai a árvore, os seus sentidos serão tocados pelo maior ou menor espetáculo, pelo som estrondoso ou delicado, pela visão da queda que começa lenta e logo acelera, pelo tremor do chão… E logo talvez emerja alguma emoção, diante da experiência de assistir, por exemplo, ao fim de um ser vivo… E, finalmente, talvez nos ocorra refletir, sobre a inevitabilidade da morte, ou sobre desertificação e mudanças climáticas… Talvez decidamos, inclusive, fazer algo a respeito.

Foto: Tomas Martinez/Unsplash
Se, no entanto, diante da queda, concomitante ou não, de duas árvores diferentes, um mesmo observador só ouvir o ruído de uma delas, só enxergar a queda de uma delas, e só se deixar emocionar e logo refletir diante de um dos dois fenômenos, a explicação para essa “cegueira relativa” precisa ser buscada no ser humano que é esse observador, e no meio social em que ele está inserido.
Voltemos agora: o que é preciso para que alguém enxergue um genocídio em curso ou, inversamente, para que alguém deixe de enxergar um genocídio em curso?
Sei que o exemplo do genocídio é extremo e que haveria muitas coisas entre isso e a queda de uma árvore que poderiam servir à reflexão sobre a cegueira e sobre a seletividade de nossos sentidos e de nossas emoções.
Apoie o VIOMUNDO
Ocorre, no entanto, que, no momento em que escrevo, há de fato um genocídio em curso e pouca gente parece disposta a ver! E mais, se eu puder sustentar meu argumento para o genocídio, esse fenômeno que, em princípio, deveria se impor aos sentidos e às emoções de todos, assim como a todas as consciências vivas, então sua relevância estará provada para todas as demais coisas.
É difícil conceber um observador que seja ou tenha sido testemunha direta de dois processos de sistemática destruição de povos, ainda que eles possam existir, como sendo o nosso observador típico.
Para entendermos o fenômeno para o qual quero apontar, é preciso ter em mente o observador a quem chegam as notícias dos eventos, as narrativas, as imagens, os textos, os filmes, as análises.
É óbvio, por isso, que, se quisermos entender a relatividade ou a seletividade das percepções e dos julgamentos, precisamos combinar aquilo que está no próprio ser humano socialmente localizado com o que está, ou deixa de estar, nas narrativas que chegam até ele.

Foto: Ricardas Brogys/Unsplash
As narrativas podem ser diversas e podem estar em competição, mas nem a multiplicidade nem o conflito são imediatamente perceptíveis como tal para o observador médio.
De algum modo, parece haver uma tendência a que algumas narrativas ganhem curso livre e sejam vistas como sendo as “naturalmente verdadeiras”, ao mesmo tempo em que as alternativas sejam percebidas como marginais, divergentes, merecedoras de menor crédito.
Em minha experiência pessoal, a existência de narrativas em competição pela prerrogativa de representar o que seria a verdade se fez constatar muito cedo e se tornou uma preocupação central e permanente.
Diante de grandes acontecimentos da vida internacional, revoluções, guerras, intervenções, eu invariavelmente encontrava duas narrativas opostas que se pretendiam exclusivamente verdadeiras: uma circulava nos jornais e nos noticiários televisivos – e logo entre professores e colegas de escola, além dos clientes da loja e os transeuntes – e outra dominava o ambiente familiar e comunitário.
Por vezes, não bastavam duas narrativas, já que nada impedia o vizinho e o seu grupo de terem a sua própria verdade.
Muito cedo eu percebi que era possível transformar o herói em vilão, o algoz em vítima, e vice-versa, que era possível arbitrar o começo e o fim das histórias, que se podia inverter razões e consequências. Isso tudo era problemático para quem ainda tinha alguma ilusão sobre a existência de verdades objetivas.
Mas era mais problemático ainda o efeito que têm as narrativas divergentes sobre a localização da justiça.
É assim que, gradualmente, os temas correlatos, das narrativas em competição, e daquelas naturalizadas, da cegueira seletiva e da comoção seletiva foram se tornando naquilo que eu poderia chamar de “minha grande questão”.
Alguns acidentes foram contribuindo para que as expressões se consolidassem em meu espírito e se relacionassem entre si. Primeiro, quando dos ataques ao jornal satírico francês Charlie Hebdo eu quis reagir em texto e resolvi que o título deveria ser “Comoção Seletiva”.
Muitas coisas trágicas aconteciam naqueles dias, uma guerra absurda na Síria, atentados no Egito, na Tunísia, no Niger, refugiados naufragando e aparecendo mortos nas praias. Nada, no entanto, podia competir, em comoção sentida e expressada, com os ataques ao Charlie.

Um belo dia, resolvi recolher textos escritos por mim e publicados ao longo de dois ou três anos, e resolvi que o melhor nome para a coletânea seria “Comoção Seletiva”.
Entre os artigos, mais de um faziam referência a Edward Said, à sua preocupação com as narrativas e as representações do outro, um outro a quem não se permite o privilégio de contar a si mesmo, e também à sua referência à cegueira específica de grandes intelectuais e de grandes humanistas, que viam tudo, ou quase tudo, mas eram incapazes de enxergar os palestinos como um povo e a sua tragédia como uma grande injustiça histórica.
Um bom amigo, editor, leu com grande generosidade os textos e me disse que o conjunto podia muito bem se chamar “Cegueira Seletiva” e que isto seria talvez mais apropriado.
Sou, portanto, devedor, em relação aos amigos, aos acidentes e às trocas que vão sedimentando em nós as ideias que pensamos ter.
E não há dúvidas quanto à inspiração “Saidiana” das minhas reflexões.
A ideia de um Ocidente que guarda para si a prerrogativa de representar o outro, o oriental ou, de modo geral, o não-ocidental, é um achado de extrema potência. Ela carrega em si a imagem das narrativas em competição, das narrativas naturalizadas, das narrativas impossíveis.
Um pequeno desvio, para referir a impossibilidade de contar, de fazer ouvir a própria voz: se eu soubesse desenhar, eu produziria um palestino que conta a sua história contra uma forte ventania; o vento empurraria as suas palavras para trás do orador e ninguém o poderia ouvir.
Já a imagem do cego que tudo vê menos a Questão Palestina, apesar de parecer mais banal, emerge para mim como especialmente assustadora, por ser um caso muito particular e específico de seletividade e por acometer pensadores críticos que, em princípio, têm preocupação genuína com os temas da justiça, do poder… Basta dizer que entre os exemplos listados por Edward Said estão nomes como os de Isaiah Berlin e Michel Foucault.
Sei, é claro, que o adjetivo “seletiva” que faço acompanhar a cegueira e a comoção pode carregar o sentido de uma seletividade voluntária, proposital, consciente.
Interessa mais, no entanto, a ocorrência dos pontos cegos e dos vieses, da visão e dos sentimentos, enquanto fenômeno involuntário, enquanto movimento natural, por assim dizer.
É claro que, enquanto buscamos as razões para o que vemos e para o que não vemos, e enquanto buscamos entender o processo de naturalização de narrativas dominantes, e olhamos para o observador, para a sociedade em que está inserido e para o modo como chegam até ele as narrativas, não podemos descartar a possibilidade de que os resultados, a cegueira e a naturalização, decorram de uma intenção que não está no observador. Não se pode descartar a possibilidade de um processo controlado.
Noam Chomsky, um interlocutor longevo de Edward Said, é um dos principais pensadores a tentar revelar o processo através do qual detentores de poder produzem consenso e o papel que a mídia desempenha nessa construção.
E foi justamente em Chomsky que encontrei um conceito aparentado com minhas preocupações em torno da seletividade das nossas percepções e sobre o caráter dominante de alguns mecanismos produtores de narrativas.
Em certa ocasião, ouvi Chomsky dizer que a ideia de que havia liberdade no campo do debate político nos Estados Unidos era uma ilusão.
Apesar da aparência de total liberdade, quem observasse com cuidado veria que as margens dentro das quais era possível discordar estavam claramente desenhadas. Quem quisesse desafiar essas margens não seria necessariamente calado, mas estaria condenado a falar para os muito poucos, os marginalizados, os excluídos do mercado principal de ideias.
O conceito que encontrei, relacionado a esse universo de argumentos, é o da “Janela de Overton”.
Concebida por um cientista político, a janela em questão expressa a ideia de que, contrariamente ao que se poderia esperar, os atores políticos não agem como portadores de opiniões políticas próprias que submetem à consideração do eleitorado; eles, na verdade, ajustam o seu discurso ao espaço político que percebem presente no lugar e no tempo. A janela e os bordes do discurso e do debate possíveis estão dados.
A pergunta inescapável, para a qual só se pode ter respostas tentativas, é esta: em que medida é natural, espontâneo, o processo pelo qual se desenham as fronteiras e os limites, e em que medida é possível que alguém determine as margens e as ideias que podem circular entre elas?
Ao pensar nisso, sempre tive tendência a visualizar, como exemplo definitivo da verdade da tese, o fato de que é praticamente impossível defender o comunismo e ser ouvido nos Estados Unidos, quanto mais participar da vida política do país. Hoje um exemplo mais atual seria o da impossibilidade de ser uma voz dissonante em relação à defesa de Israel.
Isso tudo nos coloca diante de um conjunto de questões existenciais de difícil resposta: quanto apreendemos da realidade que nos circunda, e quanto do que percebemos é de fato realidade? É possível falar em verdade, e é possível conhecer alguma verdade?
Sei que deve haver limites para as referências que se faz à cultura popular se fizermos questão de preservar alguma respeitabilidade, mas assumo aqui um risco calculado.
Tenho em mente o dilema que domina o filme “Matrix”: em que medida vivemos uma ilusão, ou uma mentira, construída por um arquiteto que nos é desconhecido, e que só pode ser enfrentada mediante o custo de uma vida clandestina nos subsolos sombrios, de trapos por roupas e mingau insosso por única comida?

Foto: Mariola Grobelska/ Unsplash
Não se trata de uma falsa pergunta. Nesta nossa vida concreta, quais são as reais possibilidades de desafiarmos as narrativas dominantes? Com que chances de sucesso? Mediante que preço?
Ocorreu-me recentemente que, assim como não posso acreditar no que dizem ver aqueles grandes espíritos que apenas não veem a tragédia palestina, me vejo forçado a colocar em questão a história oficial dos grandes eventos do passado já que, diante dos grandes eventos da história presente, eu vejo que se está construindo hoje, sob meu olhar, as narrativas ficcionais que servirão de história oficial no futuro.
Tenho em mente, quando digo isso, dois grandes processos que ao mesmo tempo ilustram os fenômenos das narrativas naturalizadas, da cegueira seletiva e da comoção seletiva, e revelam a face verdadeira de um Ocidente que ainda pretende reservar para si o privilégio exclusivo de representar o outro e o mundo, para si e para o mundo.
Refiro-me à guerra na Ucrânia e à guerra na Palestina (este segundo é um nome genérico que engloba o genocídio em curso que vitima a população de Gaza, mas também compreende as ações armadas que se estendem para além da Palestina e envolvem outros atores).
A concomitância dos dois eventos é especialmente relevante porque permitiu a descoberta dos diferentes pesos e medidas mobilizados na construção das narrativas e presentes na comoção pretensamente sentida.
Assim como podemos questionar os processos de apreensão da realidade e duvidar das possibilidades de alguma verdade, cabe apontar para a seletividade da nossa comoção, do nosso ultraje, da nossa revolta, diante do que percebemos como injusto ou como desumano.
No limite, assim como nos perguntamos se estamos inseridos em toda uma vida ficcional, podemos também nos perguntar se sentimos de verdade.
Se cada um de nós, enquanto indivíduo, consegue identificar as instâncias em que, por exemplo, nossas emoções e nossas capacidades empáticas são mobilizadas diante do sofrimento de uma criança, e as instâncias em que o sofrimento de uma outra criança nos deixa indiferentes.
A nossa comoção, quando acontece, é genuína, ou pelo menos pode ser – não tenho em mente os que fingem e mentem.
Na medida em que se manifesta seletivamente, no entanto, podemos duvidar do que deveria ser a sua conexão com a injustiça, com o sofrimento, com um senso de humanidade. Isso tudo se impõe a nós quando nos referimos à comoção que se manifesta no indivíduo.
É importante notar, no entanto, que muitas vezes falamos de comoção seletiva ou de conceitos equivalentes, atribuindo essa seletividade de pesos e medidas, e de sentimentos, a instituições, a Estados, a organizações internacionais, a tribunais…
Isso é especialmente verdadeiro em circunstâncias como as que referi acima, guerras, genocídios, crimes de guerra e contra a humanidade…
Dizemos, então, que Estados Unidos, França, este ou aquele outro Estado, a ONU, o Tribunal Penal Internacional, fazem prova de comoção seletiva.
Sabemos, é claro, que esses entes são desprovidos de sentimentos, e que, em princípio, ao menos, as pessoas que falam e agem em nome dessas instituições são sim capazes de sentir.
A confusão, e a imprecisão com que nos referimos ao comportamento dos Estados e de outros entes, decorrem, ao menos em parte, do fato de que quem se manifesta em nome deles, apesar de ter em mente razões exclusivamente políticas, se coloca enfatizando argumentos de natureza moral, afirmando o amor à justiça e à humanidade.
Para um observador mais atento, fica evidente a inconstância dos valores afirmados, a sua contradição com os comportamentos, a seletividade com que são aplicados.
Para todos os demais, mais uma vez, o apagamento das contradições e da seletividade fica por conta de narrativas bem construídas e naturalizadas, narrativas que não revelem os seus próprios furos de enredo e que não permitam qualquer memória de mais longa duração.
Como sugeria acima, a coincidência no tempo das guerras na Ucrânia e na Palestina nos fornece uma oportunidade única na revelação da verdadeira natureza do jogo. E isso porque a parte do mundo que alguns hoje chamam de Ocidente Coletivo ou Norte Global – ou seja, Estados Unidos e seus aliados – se sentiu forçada a caminhar concomitantemente em duas direções contrárias, e mais, a ir ao extremo nas duas direções: ao mesmo tempo demonizar a Rússia e justificar as ações criminosas de Israel.
É nesse sentido que se pode dizer que neste momento histórico caíram as máscaras. E não se pode subestimar a potência desse fato.
Enquanto caem as máscaras do Ocidente, não são apenas os rostos dos atores individuais que se revelam; este é antes o anúncio do possível desfazimento do sistema internacional, criado por esse Ocidente à sua imagem e semelhança, e das suas instituições.

Foto: Vlad Hilitanu/ Unsplash
O sistema tinha, segundo nos é dito, pretensões de universalidade, mas as várias seletividades para as quais eu vim apontando negam qualquer verdade dessa pretensão.
Perceba-se, olhando para os eventos recentes no seio da ONU e de outras organizações internacionais, assim como nos tribunais internacionais, como as estruturas institucionais ameaçam ruir diante da tensão entre sua orientação principiológica pelo universalismo e a dificuldade de agir contrariamente aos interesses de seus criadores.
O caso da Palestina talvez sirva como nenhum outro a ilustrar os temas da cegueira seletiva, da comoção seletiva, das narrativas dominantes e naturalizadas e da crise do sistema internacional montado sobre um conjunto de narrativas avançadas pelo Ocidente.
Antes de ser uma instância de uma narrativa dominante, a Palestina é um lugar, geográfico, mental e simbólico de muitas e diversas narrativas, a bíblica, enquanto coração dos monoteísmos, a histórica e geográfica, enquanto parte do coração do mundo e do berço das civilizações, a bíblica ressuscitada na Europa protestante e no sionismo europeu, a colonial dos grandes impérios que dividiam entre si o mundo…
Depois de mais de cem anos de uma Questão Palestina que poderia ser narrada enquanto uma luta de resistência de um povo que quer preservar o seu território e a sua identidade, a narrativa que impera soberana é outra: havia antissemitismo na Europa e havia pogroms violentos que vitimavam os judeus europeus; isso se combinava com uma longa história de perseguições contra o grupo; por conta disso, chegou-se à conclusão de que o grupo só estaria seguro se tivesse um Estado para si; levando em conta o relato bíblico, o estabelecimento desse Estado na Palestina histórica seria como uma volta para a casa prometida por Deus; o genocídio dos judeus europeus durante a segunda guerra mundial só confirmava a tese; o território da Palestina não teria um povo e os palestinos não seriam um povo; antes de Israel, tudo era atraso, e depois, tudo progresso; todas as guerras foram culpa dos árabes e estes só perderam territórios porque não aceitaram os acordos; que hoje o justo seria uma solução de dois Estados em que a Palestina seria algo menos do que soberana…
O que não aparecia, antes desta guerra em que, como se disse, muitas máscaras caíram, na narrativa, era a realidade da ocupação do território destinado a ser a Palestina, em princípio, de acordo com o pretenso consenso, era a realidade do sistema de segregação e de apartheid, era a realidade da limpeza étnica.
Esses aspectos da realidade eram, para quem quisesse olhar, indiscutíveis. E, no entanto, ninguém queria ver; ninguém queria pagar o preço de sustentar narrativas que revelassem essa verdade; e parecia que ninguém estava disposto a se deixar comover.
Que mistério será esse? Eu proponho a seguinte chave, se não para desvendar definitivamente o enigma, pelo menos para iluminar um pouco o nosso caminho.
Sinto que, na verdade, apesar da profusão de narrativas que tentam provar o contrário, não nos afastamos tanto assim do Século XIX.
Essencialmente, a Questão da Palestina pertence ao tempo em que o Ocidente dito civilizado se permitia a dominação e a exploração dos não-ocidentais, bárbaros.
É um caso típico de colonização por assentamentos e por substituição de população. Em parte, então, é porque as vidas dos bárbaros não valem o mesmo que as dos civilizados que não são ou não precisam ser vistas, não merecem uma narrativa que as conte e que as valorize, não nos fazem sentir e muito menos agir. Mas essa é parte da razão, não é toda ela. Há certamente mais. Quem ousa contar o resto?
*Salem Nasser é professor de Direito Internacional.
* Este artigo não representa obrigatoriamente a posição do Viomundo.
Leia também
Jair de Souza: Lições a extrair do sofrimento do bravo povo de Gaza
Ibraspal: Cessar-fogo em Gaza é vitória da resistência palestina


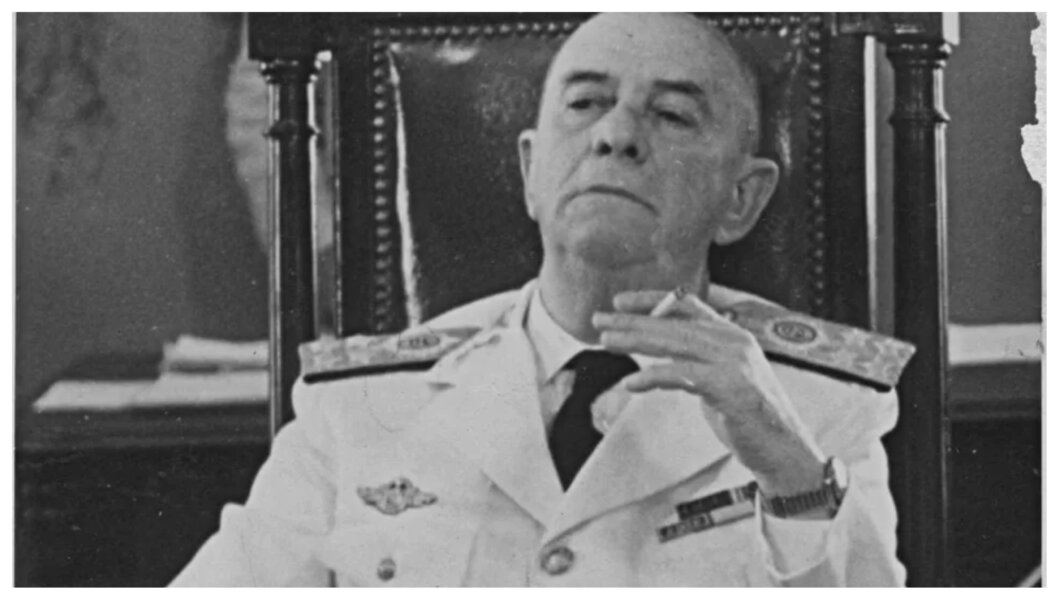


Comentários
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!