
Celia Lundberg, ex-militante da ALN ficou grávida na prisão e sofreu um aborto espontâneo. Foto: Arquivo pessoal
Hoje com 68 anos, Celia Lundberg é uma das vítimas da ditadura, cujo processo será submetido a julgamento pela Comissão de Anistia na segunda-feira 8. Ela pede do Estado brasileiro uma aposentadoria para que tenha a possibilidade de voltar a viver no País. Ao sair da prisão, e com medo de ser presa novamente, a militante fugiu para o Chile, e de lá, após o golpe militar que derrubou Salvador Allende, em 1973, foi para a Suécia. Casou-se com um sueco que havia conhecido na capital chilena, Karl Svante Lundberg, e teve dois filhos. Formou-se em Fisioterapia e exerce a profissão como autônoma.
Neste meio tempo, veio algumas vezes ao Brasil, por razões de enfermidade na família ou para enterrar parentes: a mãe, o pai. Voltar à terra natal sempre significou abrir velhas feridas. Pelo Skype, ela interrompe várias vezes a entrevista, sem conseguir segurar o choro. As lembranças ruins vêm à tona: os policiais armados com metralhadoras invadindo o apartamento em que ela morava, em Belo Horizonte, com 8 dos 11 irmãos estudantes. Os pais viviam na cidade de Salinas, norte de Minas Gerais. Celia tinha acabado de se formar na Universidade Católica. O irmão, Hervê, estava preso no Dops mineiro quando a levaram.
Formada em Geografia e em Educação Física, Celia Lundberg tinha entrado na ALN por influência de Hervê, militante do grupo. Desde pequena, conta, sentia-se indignada com as desigualdades sociais no Brasil. Seu pai, um homem conservador, “mas justo”, como o define, era feminista, e deu oportunidade de estudo igual aos filhos e filhas. A mineira diz que se sentia “doída” de ver que alguns pudessem ter tudo, enquanto outros não tinham nada. Entrou para a ALN e acabou presa. Os pais nunca souberam das torturas sofridas nos porões da ditadura.
“No Dops me falavam que eu tinha feito milhões de coisas, mas nunca participei de nada pesado”, conta Celia, que tem uma memória confusa em relação ao que ocorreu na cadeia. Lembra-se do tenente que era o chefe da operação, mas não exatamente de seu rosto. Tampouco recorda a face de seus torturadores. “Muitos de nós não somos capazes de reconhecê-los. É como os judeus que saíram dos campos de concentração. Com certeza todos lembram perfeitamente dos maus-tratos que sofreram, mas não do rosto dos algozes.”
As noções de tempo são inexatas. A ex-militante não sabe se foram dias ou meses trancafiada no Dops. Quando foi promulgada a lei da anistia, em 1979, ela retornou ao Brasil pela primeira vez após o exílio. Com seu primeiro filho com poucos meses de vida, foi ouvida em interrogatório. O marido ficou do lado de fora com a criança. A brasileira saiu aos prantos, com a sensação de haver passado horas lá dentro. Só depois Karl lhe revelaria que, na verdade, tinham sido apenas 30 minutos.
É muito difícil perguntar para um ex-torturado os detalhes dos maus-tratos. No depoimento por escrito à Comissão de Anistia, ela conta ter sido submetida “a interrogatórios, torturas psíquicas e físicas”. Também ouvia o irmão, Hervê, ser espancado. “Fui removida da minha cela para outro quarto, que, provavelmente, era a sala de ‘trabalho’ dos nossos torturadores. Em uma parede, pude ler o nome de Dan Mitrione, o americano especialista em torturas que havia estado ali no Dops e depois seguiu para o Uruguai, obviamente com as mesmas incumbências.”
Quando reagia aos gritos do irmão torturado, Celia ouvia dos algozes ameaças de represálias contra sua família ou de aniquilamento de Hervê. “Havia raros momentos esperançosos, quando se abria a porta de minha cela e, assim, eu e meu irmão tínhamos a oportunidade de nos comunicarmos por sinais, já que as celas davam vista uma para a outra”, escreveu.
As sequelas psicológicas são evidentes. “É uma ferida profunda. O que mais fiz na vida foi tentar esquecer. Principalmente trabalhando, para não ficar louca.” As marcas no corpo ela esconde com roupas de mangas compridas: manchas causadas pelas queimaduras com brasa de cigarro nos braços e nas pernas. O estupro resultou numa gravidez, interrompida por um aborto espontâneo. Até hoje ela não pode escutar a água da torneira pingando, um dos clássicos métodos de tortura. E dormir de barriga para cima a faz lembrar de ficar contando os quatro cantos da cela para tentar acelerar os dias.
Já no exterior, a mineira ouvia com descrédito as notícias de que a ditadura estava no fim. “Eu achava que não ia acabar nunca.” E a lei da anistia causou-lhe revolta. “A tortura é uma coisa bestial. Os torturadores teriam de ter pagado, não com a mesma moeda, mas com a prisão. Aquele tenente que não esqueci, do Dops de Belo Horizonte, nunca sofreu nenhuma punição. Não acho isso justo.” Uma das boas-novas, afirma, foi a eleição à Presidência de Dilma Rousseff, uma ex-guerrilheira. Celia ficou feliz. E, pela primeira vez, sentiu vontade de voltar para casa.
Apoie o VIOMUNDO
“Entrei com o processo por insistência de amigos. Na realidade, eu não queria remexer nesse assunto, cujas recordações me fazem muito mal. Mas, com esse dinheiro, eu teria a possibilidade de regressar e viver no Brasil”, diz. “Essa indenização, entretanto, não vai ressarcir nem um centésimo do mal que o terrorismo de Estado brasileiro me causou. Os terroristas continuaram com seus vencimentos normalmente, sem ter de apresentar nenhum requerimento para isso. Nunca precisaram ter seus casos julgados por nenhuma comissão. Muitos foram promovidos.”
Leia também:
Urariano Mota: Os velhinhos assassinos que arrancavam unhas com pedaço de carne
Pedro Serrano: Condenação de Ustra abre portas para novas ações
Entrevista com Amelinha Teles, torturada pessoalmente pelo coronel Ustra
Bia Barbosa: Brasil forjado na ditadura representa Estado de exceção permanente
Luiz Claudio Cunha: As garras do Brasil na Operação Condor
Ex-ditador argentino condenado a 50 anos de prisão pelo rapto de bebês durante a ditadura militar

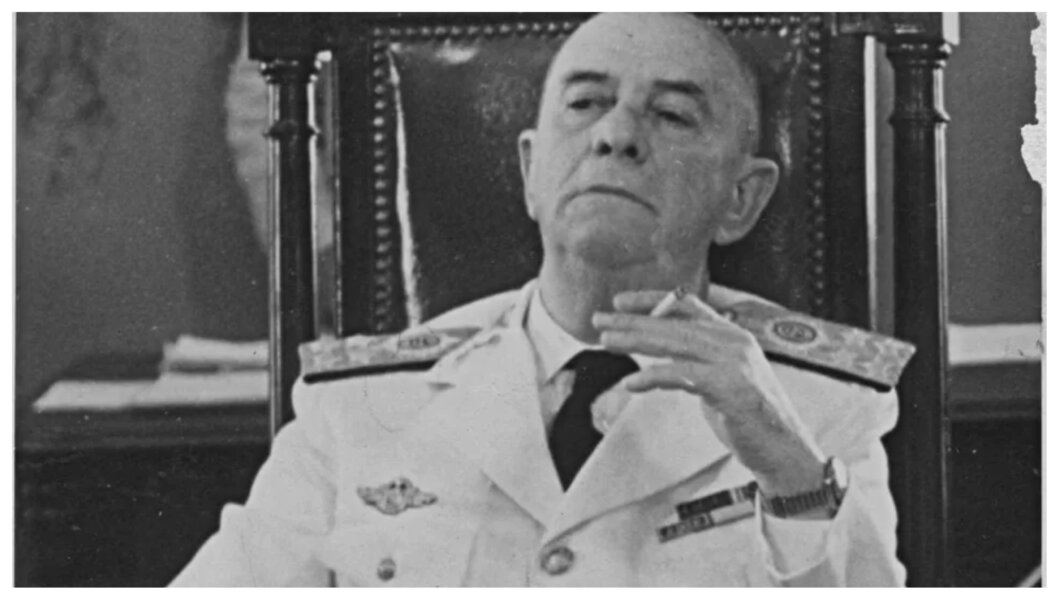



Comentários
Matheus
Engraçado que não estou vendo nenhum comentário ultra-reacionário. Será que as viuvinhas da ditadura ficaram envergonhadas? Ou eles deliberadamente ignoram uma vítima de tortura, que nem sequer pode ser acusada de “guerrilheira”?
Mais de 350 camponeses foram assassinados no Araguaia pela ditadura « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Pedro Leonardo: As eleições municipais de 2012 « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Venezuela: Cadê as 500 mil pessoas que estavam aqui? « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Paulo Moreira Leite: O lugar de Genoino « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Haddad: “Para nós não foi exatamente uma surpresa” « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Genoino: “Vocês são urubus e torturadores da alma humana” « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Joaquim Barbosa: A imprensa brasileira é toda ela branca e conservadora « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
FrancoAtirador
.
.
A anistia no Brasil e a construção do esquecimento
Em entrevista à Carta Maior, a historiadora Caroline Silveira Bauer, autora de uma pesquisa premiada sobre os aparatos de repressão das ditaduras do Brasil e da Argentina, desaparecimentos e políticas de memória, fala sobre seu trabalho e analisa o longo processo da transição política no Brasil e a ideologia da reconciliação que tem impacto no país até hoje. O processo de anistia no Brasil, defende, não propiciou uma verdadeira reconciliação, mas sim criou um mito, uma ideologia da reconciliação baseada no esquecimento.
Por Marco Aurélio Weissheimer, na Carta Maior
Porto Alegre – O processo de anistia no Brasil não propiciou uma verdadeira reconciliação, mas sim criou um mito, uma ideologia da reconciliação, segundo a qual o melhor para a sociedade brasileira seria seguir adiante e esquecer o que aconteceu, sem nenhum tipo de avaliação daquilo que foi feito. Assim, ao invés de meramente propiciar um perdão penal, ela veio acompanhada de um elemento extra que foi a construção do esquecimento. A avaliação é da historiadora Caroline Silveira Bauer, autora do livro “Brasil e Argentina: Ditaduras, Desaparecimentos e Políticas de Memória” (uma publicação conjunta da Editora Medianiz e da Associação Nacional da História), resultado de sua tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Barcelona, vencedora do concurso da Associação Nacional de História/Seção Rio Grande do Sul (ANPUH-RS).
Em entrevista à Carta Maior, Caroline Bauer fala sobre sua pesquisa documental sobre os arquivos repressivos de Brasil e Argentina, com foco na questão dos desaparecidos políticos. Além disso, analisa o processo da transição política no Brasil e a ideologia da reconciliação que tem impacto no país até hoje. E relata, por fim, um pouco de seu trabalho no Grupo de Trabalho Araguaia da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Carta Maior: O seu livro apresenta inúmeros elementos rejeitando a ideia de que o que houve no Brasil foi uma “ditabranda” e que a ditadura na Argentina, por exemplo, teria sido “muito mais ditadura”. Há, na sua avaliação diferenças qualitativas entre as ditaduras que infestaram o Cone Sul na segunda metade do século XX?
Caroline Bauer: Sim, existem diferenças qualitativas entre elas, determinadas tanto pela sua cronologia quanto por seus objetivos. Embora elas tenham um objetivo comum que é o “combate à subversão”, mesmo que essa “subversão” não seja algo muito bem definido, elas têm diferenças importantes. A ditadura brasileira, por exemplo, é a primeira ditadura do período e muitas das coisas que são feitas nela são experimentações, na América Latina, de algumas práticas que estavam ocorrendo em outros lugares do mundo. Na ditadura que começa em 1976, na Argentina, essas experimentações já têm um resultado que não é necessariamente positivo. Na avaliação dos generais argentinos, pelo curto prazo que tem para agir, eles não podem levar adiante uma política repressiva como a brasileira, onde existe muita tortura na prática do interrogatório e muita avidez na coleta de informações. Eles também avaliam que não podem fazer o que foi feito no Chile, onde ocorreu um extermínio em massa nos primeiros meses após o golpe, com uma forte repercussão internacional. Assim, uma ditadura vai coletando experiências das outras e configurando diferenças entre elas. Isso não autoriza nenhum tipo de argumento dizendo que houve uma ditadura pior e outra “mais branda”. Não existe um metro para esse tipo de repressão.
CM: Quais foram exatamente esses experimentos da ditadura brasileira?
CB: Em primeiro lugar, tomar o interrogatório como uma prática que vai sendo estudada e incrementada com a formação de oficiais brasileiros nas escolas norteamericanas e francesas. Além disso, vai se formando uma ideologia militar onde os civis são considerados inaptos para o desenvolvimento de uma política dentro de um clima de guerra fria. Com isso, ocorre uma militarização das estruturas do Estado, o que não tinha aparecido muito nos golpes anteriores no Brasil.
CM: O que resultou do “balanço” que os militares argentinos fizeram das experiências das ditaduras brasileira e chilena? A prática
dos “desaparecimentos” foi uma espécie de síntese desse balanço que não queria longos interrogatórios nem extermínios explícitos?
CB: Sobre isso é preciso lembrar que, no contexto internacional, há uma mudança muito forte dentro da política norteamericana, inclusive da sua relação com a América Latina, com a eleição de Jimmy Carter. Há uma pressa maior na execução de certas ações em função da revalorização do tema dos direitos humanos. Isso fica muito claro em um documento desclassificado dos Estados Unidos que mostra uma conversa entre o então secretário de Estado, Henry Kissinger, e o ministro de Relações Exteriores argentino, Cesar Augusto Guzzetti, onde o primeiro recomenda que se há “algo a ser feito” que “seja feito rapidamente”. Essa é a expressão que é utilizada: “façamos o que precisa ser feito de uma maneira muito rápida”. Em função dessa pressa, dessa urgência de “fazer o que precisa ser feito”, adota-se a “solução final” que é a prática massiva de desaparecimentos.
Ao contrário do extermínio aberto que ocorreu no Chile, essa prática tem um impacto que se restringe muito ao entorno das pessoas, mas não há imagens de fuzilamentos, de prisão em massa de pessoas. Todo o esquema repressivo é montado na clandestinidade, suas ações ocorrem preferencialmente de noite e de madrugada, antes das ações se apagam as luzes do bairro. Há toda uma ideia para que aquilo aconteça e a pessoa passe a não existir mais.
Além da questão da conjuntura internacional, com a vitória de Carter nos EUA, esse processo repressivo na Argentina ocorre quando o Brasil já se encaminha para uma transição política. E o Brasil, no contexto da geopolítica regional, se encaminhando para uma transição política, no período entre 1976 e 1977, representa algo preocupante para os outros países.
CM: Parece haver então um fio condutor que aponta para a evolução das práticas repressivas na região. Uma ditadura foi avaliando a experiência da outra..
CB: Sem dúvida. Essa é uma forma de contar a história das ditaduras de uma maneira regional, que não seja focada em casos separados. As ditaduras no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai são pensadas conjuntamente no contexto da região. Assim, é possível ver os elementos de continuidade, as mudanças e o que vai sendo adaptado dentro das coordenadas que foram regionais.
CM: Os argumentos dos defensores da chamada “transição conciliada” no Brasil estão vivos até hoje, inclusive em manifestações de juízes do Supremo Tribunal Federal, como você mostra em seu livro (voto do ministro Marco Aurélio Mello, em 2008, contra a extradição do repressor uruguaio Manuel Juan Cordero Piacentini, na base de uma defesa da necessidade de “virar a página” e “não reabrir feridas”). De que modo, na sua avaliação, o tipo de transição que houve no Brasil ainda impacta o presente político no país? Esse impacto se concentra no debate sobre a anistia política ou está entranhado institucionalmente nas estruturas do Estado?
CB: Esse impacto não se resume ao tema da anistia política, mas esse tema é importante para se entender essa forma de transição construída no Brasil. Ela não é restrita basicamente à anistia porque há outros elementos dessa transição que ainda estão presentes na política brasileira, incluindo as próprias pessoas. Um dos problemas dessa transição política está ligado à chamada sanitização do Estado, ou seja, a necessidade de afastar do Estado todos aqueles elementos que estavam vinculados ao regime ditatorial anterior. Ao olharmos para a forma pela qual foi conduzida a transição política no Brasil, percebemos a existência de um movimento camaleônico de pessoas que deixam de ser os apoiadores da ditadura para se tornarem os defensores da democracia. O Estado continua com a presença dessas pessoas nas suas estruturas. As próprias estruturas repressivas também continuam intactas durante um longo tempo. Elas vão começar a ser desmontadas no início da década de 90.
Especificamente com a anistia, o que considero muito interessante para entender essa questão da conciliação que aparece muito nas falas em defesa da anistia até hoje, é esse mito de que a anistia veio com a ideia de reconciliar os dois lados. A prática da reconciliação, apesar de ser muito válida, não pressupõe esquecimento. Quando você tem esquecimento, não consegue uma verdadeira reconciliação. A anistia propiciou não uma verdadeira reconciliação, mas sim criou um mito, uma ideologia da reconciliação, onde o melhor para a sociedade brasileira seria seguir adiante e esquecer o que aconteceu, sem nenhum tipo de avaliação daquilo que foi feito. E foi exatamente isso que aconteceu com a anistia no Brasil. Ao invés dela propiciar um perdão penal, ela veio acompanhada de um elemento extra que foi a construção do esquecimento. A anistia não tem absolutamente nada a ver com não conhecer, com esquecer.
CM: Em seu voto contra a extradição de Cordero, em 2008, o juiz Marco Aurélio Mello, fala que acredita em “virada de página” e em “esperança”, como se as duas coisas não fossem contraditórias no contexto em questão. O que parece ter havido, de fato, foi uma “virada de página” e não uma reconciliação…
CB: Exatamente. O que ocorreu não foi a anistia desejada pelos movimentos que lutavam por ela. Mas se consolidou a ideia de que ela foi legítima porque existia um grande clamor social pela anistia. A grande dificuldade de lidar com isso é, inclusive, acreditar que esse debate, esse enfrentamento que a anistia procurou apaziguar, é ruim para a sociedade. Do meu ponto de vista não é. Esse debate precisa ser feito e precisa ser esclarecido. É necessário descontruir os mitos da conciliação e da reconciliação e, principalmente, falar sobre esquecimento. As leis são feitas pelos homens, elas não são divinas. Então, se os homens, em determinadas conjunturas, fizeram certas leis, elas podem ser questionadas em outras conjunturas.
CM: Com todos os limites que enfrenta, a Comissão da Verdade rompe com essa lógica do esquecimento. Para começo de conversa, volta-se a falar sobre o assunto. Além disso, ela delimitou melhor o foco de suas investigações, concentrando-se sobre os crimes cometidos por agentes do Estado. Qual sua expectativa em relação à Comissão? É otimista ou pessimista? Até onde ela pode ir?
CB: Em primeiro lugar, toda Comissão da Verdade é uma iniciativa válida e muito importante, inclusive porque ela fez com que despertassem e ganhassem maior visibilidade alguns movimentos sociais que eram muito restritos e tinham um alcance muito pequeno. Isso, por si só, já foi uma grande contribuição da Comissão da Verdade. A minha expectativa, do ponto de vista do seu resultado final, é que ela não somente reveja os casos que já foram vistos pela Comissão da Anistia e pela Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, ou que elucide novos casos, mas sim que versão da história a Comissão da Verdade vai escrever sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Querendo ou não, daqui a dois anos, quando se encerrarem os trabalhos da Comissão, essa vai ser a versão oficial sobre a ditadura. Preocupa-me muito qual é a visão que o Estado vai assumir a partir disso. Dependendo do trabalho que a Comissão da Verdade fizer, os governos, ao assumirem esse resultado como um discurso de Estado, terão que mudar suas práticas em relação à violência policial dos dias de hoje, terão que combater muito mais fortemente a tortura, valorizar muito mais os direitos humanos. Ainda é cedo para falar, pois a Comissão está começando a trabalhar, mas minha principal preocupação é essa: qual é o relato histórico que vai ficar do período ditatorial?
CM: Até aqui, os trabalhos da Comissão da Verdade têm pouca cobertura midiática. Muitas das grandes empresas de comunicação no país têm uma história de boas relações com a ditadura. Esse também é um pedaço da nossa história que ainda precisa ser melhor contado. Na sua avaliação, esse fator midiático pode representar um obstáculo para a construção de um debate nacional sobre o período da ditadura?
CB: Acho que sim. Mas acredito que, à medida que iniciarem os trabalhos propriamente ditos da Comissão da Verdade, talvez isso mude um pouco. Dentro da metodologia que foi divulgada há audiências públicas marcadas nos diversos estados, onde pessoas que foram vítimas da repressão darão depoimentos. Apesar de alguns desses relatos já serem conhecidos, pela primeira vez isso ocorrerá em um ato público. Talvez isso gere um outro tipo de repercussão. Agora, é óbvio, a nossa mídia tem muitas ligações com a ditadura e esse tema inclusive faz parte de um dos grupos de trabalho da própria comissão, sobretudo no que diz respeito às ligações financeiras da ditadura com grandes grupos empresariais.
CM: Agora, do ponto de vista do debate na sociedade, há um fenômeno novo acontecendo no Brasil, que é o surgimento de uma geração muito interessada no tema da ditadura. Temos movimentos como o Levante Popular da Juventude, comissões estaduais e comitês populares surgindo por todo canto, dispostos a auxiliar os trabalhos da Comissão da Verdade.
CB: Isso já aconteceu em alguns outros países, inclusive na Europa, após regimes autoritários e totalitários. Diz-se que é necessário o surgimento de uma segunda geração depois dos fatos, pois a primeira geração ainda está muito afetada pelo medo e de sua própria educação dentro de um regime ditatorial. Por isso, é preciso que venha uma segunda geração para que surjam novos questionamentos e novas formulações.
Pode ser que seja isso que esteja acontecendo agora no Brasil: o surgimento de uma segunda geração que passou a compreender que boa parte dos problemas que se vivencia no presente tem ligações com esse passado mal resolvido da ditadura, com esse passado que não passa, e quer discutir inclusive que democracia é essa que estamos vivendo. Os comitês populares e estaduais que estão sendo criados, o Levante que se espalhou pelo país inteiro com seus escrachos, são movimentos predominantemente de jovens que foram acolhidos pelos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Então, a gente vê muitos familiares participando desses movimentos com a renovação de uma esperança.
As famílias estavam muito isoladas nessa luta. Sempre estiveram muito isoladas. Essa é uma diferença importante em relação à situação de familiares de mortos e desaparecidos em outros países. Enquanto em países como a Argentina, os familiares são socialmente reconhecidos, aceitos e legitimados, no Brasil ninguém sabe quem são esses familiares.
CM: Na sua opinião, houve uma mudança qualitativa na ideologia dominante nas forças armadas brasileiras depois da ditadura ou continuam pensando mais ou menos da mesma maneira e estão quietas por que reconhecem que mudou a conjuntura?
CB: Na minha opinião é mais o segundo ponto. Eles continuam com suas convicções e ideias, mas institucionalmente reconhecem que hoje estão subordinados a um poder civil e que não possuem mais um espaço de legitimidade tão grande quanto tinham para proferir sua versão da história. Há uma diferença entre ter uma versão da história e continuar tendo as mesmas práticas que se tinha. Isso mudou um pouco dentro das forças armadas e a perspectiva é que continue mudando. Segundo a sentença da Corte Interamericana, o Brasil é obrigado a implantar cursos de direitos humanos dentro das forças armadas. Isso ainda não começou a ser feito, mas está na pauta.
No trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos, convivendo com os militares no Araguaia, quando eles eram questionados sobre os temas da tortura e da ditadura, eles diziam duas coisas. Em primeiro lugar, que não existia espaço para debate sobre esses temas dentro da instituição, ou seja, não era algo que os oficiais superiores comentavam com os soldados. Em segundo, que acreditavam que, enquanto soldados, precisavam de momentos mais duros e repressivos, uma vez que estavam envolvidos em uma situação de guerra. É muito difícil lidar com uma instituição que está voltada para a guerra e conciliar isso com a defesa dos direitos humanos.
CM: Houve alguma mudança de doutrina na formação dos oficiais brasileiros, alguma espécie de “reforma curricular” em seus cursos de formação?
CB: Sim, houve uma mudança curricular até porque a lógica anterior estava muito ligada ao clima de bipolaridade da guerra fria. Não tenho conhecimento suficiente para dizer se houve uma mudança ideológica dentro da formação. Mas, dentro do que conheço, se continua ensinando, por exemplo, em Manaus, curso de guerrilha na selva. Ou seja, o mesmo curso que era ministrado em 1973-1974 para os oficiais que eram enviados para o Araguaia continua em vigor, inclusive recebendo pessoal de Israel e de outros países para fazer formação.
CM: Você trabalhou durante um na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos. Poderia falar um pouco sobre esse trabalho? Qual é o trabalho que essa Comissão realiza hoje?
CB: A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada em 1995, por meio da lei 9.140. Essa lei reconheceu 136 desaparecidos por responsabilidade do Estado e instituiu uma comissão para analisar novos casos. A comissão surgiu então dessa instituição e conseguiu levantar aproximadamente 300 casos somados a esses 136. A função dela propriamente dita era fazer o levantamento sobre a circunstância dessas mortes, garantir o direito à memória e à verdade às famílias, recuperando suas histórias e fazendo o pagamento das indenizações. Quase todos os casos já foram julgados. Tem apenas um ou dois casos que ainda estão em tramitação. Então, o trabalho da comissão, tal como definido pela lei, já está praticamente encerrado. A partir desse encerramento, que aconteceu ainda em 2007, a comissão se voltou para um segundo objetivo que foi a busca, localização e identificação dos restos mortais. Foram abertas frentes de trabalho em diversas áreas, como na Vala de Perus, na Casa da Morte em Petrópolis, no Araguaia.
CM: E esse trabalho prossegue?
CB: Sim. Em relação ao Araguaia, por exemplo, ele só se encerra quando forem encontrados todos os corpos. A gente não sabe exatamente quantas pessoas da região se incorporaram à guerrilha e são consideradas desparecidas. Há um levantamento de casos que ainda está sendo feito. Segundo a sentença da Corte Interamericana, estão sendo buscados os corpos de 71 pessoas. Até agora foram encontradas duas: a Maria Lucia Petit, em 1996, e o Bergson Gurjão Farias, em 2009. As primeiras expedições ao Araguaia começaram com os familiares no início da década de 80. O trabalho do GT Araguaia da Comissão começou em 2011, dando continuidade ao trabalho do GT Tocantins, que era do Ministério da Defesa e que iniciou em 2008. Há uma série de outras ossadas que já foram recolhidas e que estão aguardando análise. Existem problemas para a identificação. Com a passagem do tempo, muitas ossadas já perderam seu material genético e se tornaram minerais, impedindo a extração de DNA pela tecnologia existente hoje. Em outros casos, há uma dificuldade para conseguir cruzar os dados e encontrar informações que levem à identificação. Há familiares que não disponibilizaram material genético. Então, é um processo lento.
CM: Os militares participam desse trabalho de busca dos corpos?
CB: Sim. O Ministério da Defesa participa institucionalmente do grupo de trabalho Araguaia. Nos trabalhos realizados em campo, o trabalho da logística é feito pelo batalhão de infantaria da região de Marabá. Esse trabalho logístico envolve deslocamento, aluguel de hotéis, disponibilização de helicópteros, entre outras coisas.
CM: E quanto a informações sobre a possível localização dos corpos? Os militares não anotaram em algum caderno onde foram enterrados os corpos (se é que foram)?
CB: A gente sonha muito em encontrar esse “caderno”. O grupo de trabalho Tocantins levou a campo, algumas vezes, militares combatentes do Araguaia para ajudar no reconhecimento do terreno. Alguns disseram que ocorreu uma mudança geográfica no entorno, que havia bastante mata que não existe mais, o que impedia o reconhecimento. Outros, quando chegam à região, sofrem uma amnésia meio inexplicável. Lembram tudo até chegar à região. Quando chegam, esquecem bastante o que aconteceu por lá. Mas eles forneceram importantes sobre a localização de bases militares, sobre como era o transporte das tropas e sobre a própria ação repressiva, que, já sabe, era muito compartimentada. Havia uma equipe que fazia a captura, outra que fazia o recolhimento dos capturados, outra que fazia a entrega, outra que fazia o interrogatório e assim por diante. Isso gera uma diluição de responsabilidade muito grande e uma segmentação da informação. Uma equipe não tinha informações sobre o que a outra fazia.
Nós sabemos, pelo relato de ex-mateiros, ex-guias do Exército, que a maioria dos guerrilheiros desaparecidos, foi feita prisioneira. Eles lembram deles presos em várias bases militares, antes de desaparecerem.
CM: Qual foi o ponto de partida de sua pesquisa de doutorado e qual o ponto de chegada que resultou neste livro sobre as ditaduras no Brasil e na Argentina, desaparecimentos e políticas de memória?
CB: O trabalho começou com um sentimento de inquietude com essa ideia de que a ditadura no Brasil foi diferente. Eu frequentava muitas palestras sobre o tema, ouvia depoimentos de familiares e pensava: não foi diferente. Os relatos são muito familiares com os de outros países. Por que, afinal, é que seria diferente? Foi a partir desse sentimento, que comecei a pesquisar a repressão em outros países. Incomodava-me muito também o chamado argumento numérico que diz: na Argentina houve 30 mil mortos, qualquer outro caso pode ser relativizado. Nunca aceitei isso. Como é que se mede isso? Qual é a unidade de medida? Não era, e não é uma questão de mais ou menos. A questão é que existe no Brasil uma estrutura que, se for necessário, vai matar 30 mil, 60 mil ou 90 mil.
Depois eu fui fazer um estágio em Barcelona, onde tomei contato com essas investigações a respeito de políticas de memória. Estudei como hoje em dia os governos democráticos estavam pensando os passados ditatoriais e o que estavam fazendo como forma de reparação e como garantia do direito de memória, verdade e justiça. A partir daí passei a fazer duas comparações: uma entre diferentes situações de repressão para relativizar o argumento numérico e outra sobre as políticas de memória e suas diferenças. Eu não queria que essas diferenças fossem estabelecidas pelo fato de que, por exemplo, na Argentina, houve 30 mil mortos e há, portanto, uma política de memória forte, e no Brasil, que teve 300, não tem. Faltava algo no meio para ligar uma coisa à outra. E a conclusão a que cheguei foi que esse meio é a transição política.
Na Argentina, em 1983, houve uma ruptura com o passado ditatorial. Houve o estabelecimento da Justiça, a liberdade de memória, de investigar o que ocorreu e de tornar isso público. Essa foi uma ruptura drástica, por mais que depois tenham ocorrido alguns retrocessos. No Brasil, a transição foi marcada por uma continuidade. Se pensarmos cronologicamente os marcos da transição política brasileira, que se estende de 1974 até 1985, temos mais período de transição política que período de governo propriamente militar. Quase não dá para falar em transição, de tão longo que foi esse período. No final, não houve uma mudança qualitativa, mas uma troca. Isso não garantiu que vários direitos suprimidos no período ditatorial fossem restabelecidos neste período pós “transição”. O livro, então, tem basicamente três momentos: repressão, transição e atualidade, onde tento entender por que hoje há na Argentina várias políticas de memória sendo implementadas e o Brasil ainda está engatinhando nesta área.
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=21024
Ibope dá Haddad, Russomanno e Serra com 22%; Datafolha aponta tucano na dianteira, mas PT diz que ele está em terceiro « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Tarso Genro: O PT, o mensalão e a mídia vigilante « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]
Maria Izabel Noronha: Estado rico, professor desvalorizado « Viomundo – O que você não vê na mídia
[…] Cynara Menezes: Celia Lundberg, vítima esquecida do terror […]