
Por Luis Felipe Miguel*, em perfil de rede social
As críticas apressadas no caso de Fausto Silva serviram para elucidar – a quem tivesse vontade de aprender – o funcionamento do sistema nacional de transplantes do Ministério da Saúde. É eficiente e igualitária.
Mas como aumentar a oferta de órgãos?
Um dos motivos que me fazem descrer no futuro da humanidade é que, a cada anos, menos dos meus alunos já sequer ouviram falar de Monty Python. Mas o grupo de humor inglês é parte do patrimônio universal da humanidade. Não ter ouvido falar dele é como não ter ouvido falar de Dostoievski, Miles Davis, Marie Curie, Giotto, Verdi, Muhammad Ali.
Um dos sketches do clássico O sentido da vida é sobre doação de órgãos vivos. A campainha toca, o sujeito atende. É uma equipe médica que, depois de confirmar que ele realmente se cadastrou como doador, joga-o numa mesa e, usando uma motosserra, arranca seu fígado ou um rim.
O triste é que, quando Fernando Henrique corretamente inverteu a arquitetura da escolha, tornando padrão a doação de órgãos, muita gente acreditou no cenário Monty Python. Uma campanha alarmista, que contaminou até pessoas inteligentes, somou-se aos tabus religiosos e a medida foi revogada.
(Pronto: não podem mais dizer que nunca elogiei o governo Fernando Henrique.)
Outra saída foi proposta por um utilitarista radical, John Harris: canibalizar uma pessoa saudável, escolhida ao acaso, para doar órgãos para vários necessitados de transplantes.
O sofrimento de uma única pessoa proporcionaria felicidade para várias, o que justificaria a ideia. O debate gerado na filosofia utilitarista foi curioso; argumentou-se que a tensão difusa gerada pela loteria (o medo permanente e disseminado de ser sorteado como doador involuntário) faria que o cálculo de utilidade geral pesasse contra a proposta.
Já os ultraliberais defendem que cada um possa vender seus órgãos. Um jornalista da Folha se notabilizou por patrocinar a ideia, mas depois recuou.
Apoie o VIOMUNDO
Os ultraliberais partem da noção de que o único direito humano é o direito de propriedade (que um autor como Von Mises não se cansava de repetir). Todos os outros direitos derivam do direito de propriedade, que começaria com a propriedade sobre si mesmo.
Assim, eu tenho o direito de ir e vir porque, como o corpo é meu, eu posso deslocá-lo no espaço de acordo com a minha própria vontade.
Tenho liberdade de expressão porque os pensamentos são meus e eu decido se vou ou não divulgá-los – e os divulgo com os recursos de que disponho; se minha voz é forte, grito alto, e se sou dono de uma rede de TV, posso usá-la para difundir minhas ideias ao máximo.
Entre a propriedade de si mesmo e uma propriedade externa não há, para estes autores, nenhuma diferença significativa. Eu posso transacionar meu corpo e tudo aquilo que provém dele, como meus direitos, da mesma forma como faço com qualquer objeto que me pertence.
Debates muito diversos, da liberação das drogas à venda de si mesmo como escravo, são nivelados pela aplicação da mesma premissa, “eu sou dono de mim mesmo”, e pela recusa a levar em conta qualquer outro aspecto.
Por isso, por exemplo, ultraliberais são contra previdência compulsória. Por que eu sou obrigado a poupar hoje para a velhice?
Se eu quero torrar tudo agora e ter uma velhice miserável, é uma decisão minha, um problema meu.
Afinal, sou dono de mim mesmo, sou dono da minha juventude e da minha velhice.
Gosto desse exemplo, não apenas porque ele escancara a impugnação da solidariedade social em favor de uma definição estrita de responsabilização individual, ao declarar que os velhos devem ser punidos pela “imprevidência” da juventude e deixados ao deus-dará.
Ele mostra também como a descontextualização é fundamental em sua estratégia argumentativa.
A previdência compulsória não equivale à poupança voluntária para a velhice exatamente porque, retirando uma parcela do rendimento do trabalhador, que fica indisponível para uso imediato, eleva o patamar salarial mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho. Ou seja, pressiona a remuneração do trabalho para cima.
Isso já ajuda a entender porque liberar a venda de órgãos não é uma boa ideia. Permitir uma solução desumana para um problema material premente – vou vender um rim para dar de comer a meu filho – é naturalizar as circunstâncias que levaram a essa situação e desresponsabilizar a sociedade por ela.
O corolário da redução dos direitos à propriedade é a entronização do mercado como reino da liberdade.
No entanto, o mercado é, na realidade, vetor de reprodução da desigualdade, da exclusão e da dominação. A venda de órgãos ilustra isso.
Em suma: a repulsa que sentimos pela ideia do comércio de órgãos nos ajuda a entender que o mercado não pode regular todas as relações humanas, que os comportamentos individuais precisam ser entendidos à luz das condições sociais, que a competição e o individualismo não podem ser as bases da construção do mundo social.
É claro que o nosso raciocínio é menos direto, menos linear que o dos ultraliberais. Nós não temos um postulado único do qual tudo deriva mecanicamente.
Precisamos colocar o valor da autonomia individual junto com as condições reais para que ela seja exercida. A liberdade deve fundar a sociedade, mas também solidariedade.
As consequências no médio e longo prazos também entram na equação. O fato de que o mundo social é composto por esferas de interação diferentes entre si, que não podem ser todas governadas por uma lógica uniforme, também precisa estar presente, assim como a compreensão de que nós, humanos, somos seres sociais, isto é, temos nossos comportamentos, valores e preferências construídos no mundo compartilhado.
Nosso pensamento é mais complexo porque o mundo é mais complexo do que a cartilha ultraliberal ensina.
*Luis Felipe Miguel é professor do Instituto de Ciência Política da UnB. Autor, entre outros livros, de Democracia na periferia capitalista: impasses do Brasil (Autêntica).
Leia também:


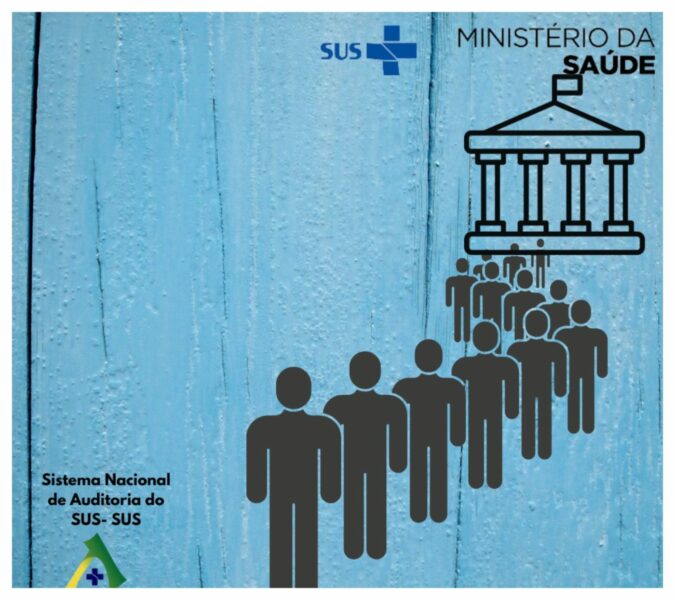


Comentários
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!
Deixe seu comentário